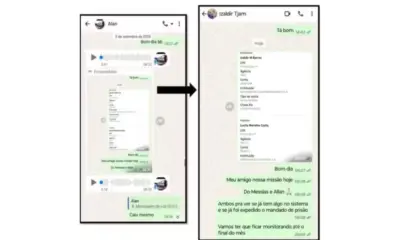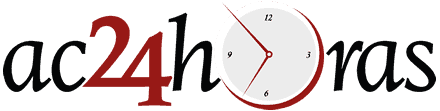Nexo Jornal
As imagens do Acampamento Luta pela Vida, que reúne 6.000 indígenas em Brasília para defender o direito à terra, causam impacto como um movimento vivo de corpos que lutam por meio da dança e do canto, e submergem o espaço dos poderes do país num ritual coletivo de conjuração da política de morte atual. Esse movimento afirma um modo de viver que pode ser caracterizado como “viver a terra”, oposto à ideia de marco temporal, tese jurídica que está em pauta no Supremo Tribunal Federal por conta do julgamento do RE nº 1.017.365/SC da terra Ibirama-Laklãnõ onde vivem povos Xokleng, Kaingang e Guarani. Estando em regime de “repercussão geral” o que for decidido para este caso poderá ser aplicado a outros. Daí seu potencial ofensivo. Em paralelo, o PL-490/2007, que também propõe o marco temporal, está em vias de ser votado no Congresso Nacional.
Pela tese do marco temporal só seria demarcada a terra comprovadamente ocupada por um povo indígena na data da promulgação da Constituição, 5 de outubro de 1988, ou aquela que tivesse sofrido “renitente esbulho”. Ou seja, aquela da qual o povo indígena tivesse sido expulso de forma violenta. Mas, neste caso, a desocupação forçada precisaria ainda ser comprovada e persistir até a data da promulgação da Constituição, materializando-se por, ao menos, um processo jurídico.
Como aponta a deputada indígena Joênia Wapichana, o marco temporal se tornaria mais uma arma para atender os interesses daqueles que disputam as terras indígenas, ou seja, grileiros de terras públicas, setores da agroindústria, da mineração e da infraestrutura. Setores que avançam não apenas sobre as Terras Indígenas, mas também sobre territórios quilombolas, de comunidades tradicionais, assim como sobre áreas de conservação ambiental. Essas investidas acabam autorizando todo tipo de violações, instaurando uma política de morte por meio do aumento de invasões, do desmatamento, da devastação ambiental e do extermínio físico.
Algumas implicações diretas da confirmação dessa tese são: a exclusão dos inúmeros casos de povos que foram sucessivamente expropriados de suas terras ao longo dos séculos, sem poder comprová-la nos termos da lei; a possibilidade de revisão de terras já demarcadas e homologadas; e a desconsideração da situação específica dos povos em isolamento voluntário. Assim, a instituição do marco temporal instauraria uma insegurança jurídica que necessariamente levaria à multiplicação de situações de violência. Por isso os povos indígenas bradam: “nossa história não começa em 1988!”.
O artigo 231 do capítulo “Dos Índios” da Constituição reconhece aos indígenas “os direitos originários sobre as terras que tradicionalmente ocupam”. Essa definição do direito à terra, constitucionalmente vinculada ao reconhecimento da autodeterminação indígena, escancara a perversidade da tese do marco temporal que impõe uma lógica cronológica linear, desconsiderando e desconhecendo o significado senciente e relacional de terra para os povos indígenas. O relator do processo, ministro Edson Fachin, traduz esse entendimento em seu voto dizendo que: “Terra Indígena, no imaginário coletivo aborígene, não é um simples objeto de direito, mas ganha dimensão de verdadeiro ente ou ser que resume em si toda ancestralidade, toda coetaneidade e toda posteridade de uma etnia”.
A ideia de terra como um “ente ou ser” evidencia o contraste radical entre um “viver a terra” indígena e a ideia de desmembrar e cercar a terra para possuí-la. Política esta que se realiza, desde os primeiros movimentos da invasão europeia, por meio do fracionamento do território brasileiro em capitanias hereditárias para a posse e controle de alguns poucos donatários. O objetivo dessa política, tanto naquele momento quanto hoje, é o de garantir a exploração dos recursos do país, pela subjugação, uniformização e ordenamento do espaço e de todos os entes que o habitam, humanos e não-humanos. O Brasil colônia instaurou o entendimento de terra como objeto a ser dominado à revelia dos mundos indígenas para quem a terra é a própria vida, aquela que cria território, corpo, espaço e tempo, num movimento constante de fazer e desfazer relações com os outros.
A INSTITUIÇÃO DO MARCO TEMPORAL INSTAURARIA UMA INSEGURANÇA JURÍDICA QUE NECESSARIAMENTE LEVARIA À MULTIPLICAÇÃO DE SITUAÇÕES DE VIOLÊNCIA.
Isso está para além da nossa concepção de terra como mero espaço destinado a cumprir uma função econômica e, a rigor, social. Para os povos originários a “ocupação tradicional” não se limita a um “estar na terra” em um determinado momento histórico numa cronologia linear, e sim a um “ser a terra” ou um “viver a terra” numa perspectiva espaço-temporal multidimensional, ou seja, mítica, histórica, atual e virtual.
Por exemplo, quando os Apurinã do rio Purus recorrem ao mito para afirmar que “vêm das pedras” estão enunciando sua origem mítica, geográfica e histórica. Mas, ao fazer isso, atualizam também seus conceitos de “terra” e de “pessoa”, pois ao afirmar que “vieram das pedras”, os Apurinã dizem que vieram das cabeceiras dos afluentes e igarapés do rio Purus, ou seja, estão dizendo que eram um povo de terra firme e, com isso, que viviam principalmente da caça, da coleta e da agricultura. Ao mesmo tempo, a afirmação indica o seu deslocamento em direção à várzea e à foz dos afluentes do Purus, e portanto sua incorporação de novos modos de vida, quando se tornam exímios pescadores, abandonam as práticas guerreiras e passam também a comerciar com os não-indígenas. Esse “viver a terra” apurinã não se detém em momento algum, segue sempre em movimento, atrelado às relações continuamente travadas nos diferentes espaços por eles percorridos e vividos. Face a isso, o marco temporal só pode se constituir como uma machadada no feixe de multirelações que fundamenta as concepções indígenas de terra para as quais espaço e tempo não se estruturam nem de modo fracionado, nem linearmente.
Numa movimentação ritual de dimensões políticas, diretamente expressa na fala do advogado indígena Luiz Henrique Eloy Terena (que dá título a este texto), os povos originários reiteram que esse “viver a terra” é para eles a condição primeira da vida. Em documento divulgado pelo Acampamento Luta pela Vida, a memória de seus ancestrais e dos encantados é invocada para “dar continuidade às suas lutas” em defesa de seus “corpos, terras e territórios”, suas “identidades e culturas diferenciadas” e para reafirmar sua “mobilização permanente em defesa da vida e da democracia”.
Mas eles não param por aí, Luta pela Vida é um chamamento político mais amplo. Como dizem, sua luta é também para “preservar a humanidade inteira, hoje gravemente ameaçada pela política de extermínio e devastação da Mãe Natureza promovida pelas elites econômicas – que herdaram a ganância do poder colonial, mercantilista e feudal expansionista – e de governantes como o genocida Jair Bolsonaro”.
Os povos originários apontam para a urgência do rompimento das estruturas coloniais que se perpetuam numa eterna atualização da relação de dominação, uniformização e aniquilamento da terra e dos corpos pelos herdeiros da mentalidade dos primeiros donatários das capitanias do Brasil. Estruturas que se materializam em livros escolares, monumentos e estátuas, naturalizados como “nossa história”, e que legitimam as práticas político-econômicas do presente. Cada vez que dizem que sua “história não começa em 1988”, os povos indígenas contribuem para queimar simbolicamente (e historicamente) algumas estátuas de bandeirantes, abrindo caminho para atualizar o presente em outros termos e manter a possibilidade de coexistência de múltiplos mundos e múltiplos modos de “viver a terra”.
Artionka Capiberibe é professora de antropologia da Unicamp, membro do CPEI/Unicamp (Centro de Pesquisa em Etnologia Indígena) e autora do livro “Batismo de fogo: Os Palikur e o cristianismo” (ed. Annablume, 2007).
Oiara Bonilla é professora de antropologia da UFF (Universidade Federal Fluminense), membro do Cosmopolíticas – Núcleo de Antropologia da UFF e pós-doutoranda na Universidade de Bolonha (Itália).