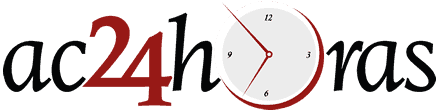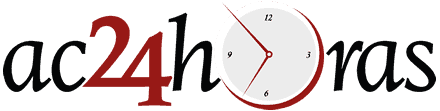As polêmicas geradas com o reinício do julgamento no STF da tese do “marco temporal para demarcação das terras indígenas” expõem muitos problemas do nosso tempo: esgarçam a era dos extremos com a qual nos habituamos a conviver desde junho de 2013 e também reformulam, em bases ainda mais radicalizadas, o debate sobre desenvolvimento.
Falar de “marco temporal” é falar sobre garimpos, extração ilegal de madeiras, desmatamento, preservação de mananciais e rios, produção de água em grandes centros. Falar de “marco temporal” é falar do genocídio que se pratica por aqui há 523 anos; é falar da preservação de identidades culturais; é falar de “cultura brasileira”; é falar de “novas” relações de consumo, necessárias em um mundo que já não sabe o que fazer com o lixo que produz. Tudo isso faz parte das discussões sobre “marco temporal”.
Há detalhes mais técnicos, sem dúvida. Como, por exemplo, o início desse debate, ocorrido ainda em 2009, quando do julgamento do caso Raposa Serra do Sol (RR), que reconheceu a demarcação das terras indígenas e impôs as salvaguardas institucionais. Uma das salvaguardas institucionais foi justamente o “marco temporal”.
Baseado nesse julgamento, foi construída uma espécie de arcabouço jurídico que anulou demarcações de várias terras indígenas. Muitas comunidades foram simplesmente despejadas. O MPF recorreu querendo um novo entendimento da corte suprema para saber se as “salvaguardas” serviriam como referência para todos os casos ou seria só para o caso da Raposa Serra do Sol. O STF entendeu que só valeria para o caso específico de Roraima.
Mas a Advocacia Geral da União, ainda na gestão do ex-presidente Michel Temer, publicou um parecer que obrigava o Estado brasileiro a aplicar os mesmos critérios que foram seguidos no processo roraimense. Na prática, institucionalizou o “marco temporal”.
Tudo isso, descambou em um recurso extraordinário com repercussão geral na nossa suprema corte: o famoso caso de Santa Catarina. O Instituto de Meio Ambiente de Santa Catarina contra a Funai e os povos Xokleng, envolvendo área reivindicada da Terra Indígena Ibirama-Laklanõ.
A discussão no plano jurídico não empolga. E, para agravar, quando isso chega nos bares, botecos e padarias, tem a seguinte cor: “Tem pouco índio para muita terra mesmo! É preciso diminuir essas terras desses cabras preguiçosos!”
Como alertamos no início deste editorial, vivemos uma era de extremos. É preciso, democraticamente, convencer com outros referenciais. As comunidades indígenas estão em guerra há 523 anos. Descobriram, na prática, que os governos, sejam de direita ou de esquerda, têm dificuldade de entender a rotina de exclusão e morte que impuseram aos povos originários. A questão em debate não deveria ser a respeito de “muita terra para pouco índio” ou sobre “segurança jurídica”. O problema é, de fato, é a pequenez das ideias.