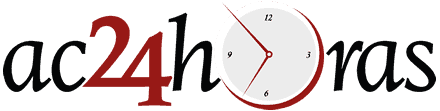Sempre que penso nos caminhos percorridos pelo Acre entre os anos 1980 e hoje, em que quatro décadas tortuosas e intensas nos arrastaram por vias que, inadvertidamente, substituíram rios e varadouros, jogando nossas consciências para cima e para baixo, para a direita e para esquerda, num sacolejo de visões e convicções que irremediavelmente alteraram nossos sonhos e desejos, abrindo cominho para esse mundo líquido, insípido e inodoro em que estamos hoje.
Sempre que penso neles, os caminhos, fico a refletir sobre em quais pontos críticos, “tipping point”, como diz Malcolm Gladwell em seu livro magistral, estariam as marcas da virada que pivotou nossa trajetória e conduziu as coisas até aqui. Talvez não tenha sido apenas uma virada. O mais provável mesmo é que tenham sido várias. O fato é que hoje não se pode dizer que estejamos felizes com quem somos. Se não, como explicar que tantos jovens talentos acreanos estejam preferindo tentar a vida em outras terras. Ou que pelas ruas, nos encontros casuais ou nas confraternizações, não se encontre pessoas felizes e esperançosas com o futuro. É quase certo que uma pesquisa de opinião que procurasse levantar o estado de humor e as expectativas das pessoas, concluiria o que estou a dizer – presumo que de forma esmagadora.
Advogo a tese que aos poucos, lamentavelmente, estamos deixando de ser acreanos para nos tornamos algo que ninguém sabe dizer o que é ou o que será, já que “o processo” segue em pleno curso. E que isso não está nos fazendo bem. Pode ser apenas a dor da passagem, da transição, como a dolorosa experiência do parto para a criança que se vê expelida de um lugar quente e seguro para um outro frio e hostil. Desconfio que seja mais do que isso.
Exemplifico com uma passagem marcante. Foi quando estive pela primeira vez na Terra Indígena Puianawa, em Mâncio Lima, pelos idos de 2010, e ouvi sobre como o povo vinha lutando para resgatar tradições e reconectar-se com sua ancestralidade. Mais que ouvir, eu vi as perturbadoras dores da passagem que aquele povo decidira fazer. Implicava restaurar a tradição da dança, do pajé e da transcendência com a ayahuasca, restaurando junto mitos fundadores e rituais do cotidiano – tudo na intenção de resgatar a identidade perdida no redemoinho de relações desiguais com não-índios da cidade e missionários evangelizadores, ambos a lhes negar os costumes herdados. Dores de quem decide empreender uma jornada necessária, ainda que dura e longa.
Uma cultura não fica parada no tempo. É movimento que cria e recria, adaptando permanentemente modos de vida e estratégias de sobrevivência. Alguma coisa, uma linha, um rio, precisa conectar passado e futuro, percorrendo gerações e fazendo com que valores e costumes caros ao povo sejam preservados.
O ponto de ruptura acontece quando novos ventos alteram a curva dos desejos e subvertem o mundo dos sonhos. Pode ser um missionário, um padre ou um vendedor. Ou quem sabe um capitalista montado em malas de dinheiro. Ou um político sequioso por poder e prestígio. Em muitos casos é tão somente a onda eletromagnética que, antes, adentrava casas pela antena da tv e agora irradia na brilhante tela do smartphone. Podem trazer o desejo pela camionete do fazendeiro ou o apego pela vida glamourosa do influencer da ocasião.
Um ponto de ruptura pode ser algo mais singelo como o desemprego ou a fome. Pode ser a desesperança pela frustração de expectativas não realizadas. Enfim, tipping point. Eles existem.
O que fazer para nos resgatarmos das viradas que instalaram a insensatez de uma vida líquida e sem sal, e que nos levam à condição de um povo perdido no vazio da falta de identidade e sentidos? Talvez possamos começar por pensar a respeito. Pode ser mesmo um bom começo. Um dia, quem sabe, tenhamos a sabedoria e a coragem do povo Puyanawa.